A indústria brasileira de colchões mistura química fina, metalurgia leve, têxteis, distribuição de alto custo e varejo intensivo em crédito. Por trás de uma compra aparentemente simples existe uma cadeia complexa que começa em matérias-primas petroquímicas e termina num bem durável que precisa performar silenciosamente, todas as noites, por anos. Mapear esse terreno exige olhar para materiais, processos de fabricação, normas técnicas, logística, canais de venda e mudanças recentes no comportamento do consumidor.
Principais processos
O primeiro elo é a cadeia de polímeros. A maior parte dos colchões vendidos no país usa espuma de poliuretano produzida a partir de poliol e isocianato, com aditivos que controlam reatividade, célula e estabilidade. O mercado local convive com duas rotas principais: blocos contínuos do tipo slabstock, que saem de linhas automatizadas em “tijolos” longos, e espumas moldadas, menos comuns em colchões mas presentes em acessórios. A densidade é o parâmetro mais visível para o consumidor e ainda serve de linguagem do varejo, com classes típicas como D23, D28 e D33 (kg/m³). Densidade, porém, não conta a história toda: suporte percebido depende do perfil ILD/IFD ao longo da deformação, da histerese e da resiliência. Por isso dois colchões de “mesma densidade” podem ter sensações de conforto muito diferentes.
Ao lado da espuma, os núcleos de molas respondem por outra parcela relevante do mercado. Há três famílias principais. As Bonnell, helicoidais, de menor custo e resposta mais global; as LFK/offset, com desenho que aumenta área de contato do arame; e as ensacadas individualmente (pocket), que permitem resposta ponto a ponto e maior isolamento de movimento. O diâmetro do fio, o número de espiras, o diâmetro do corpo e o tipo de têmpera definem rigidez e vida em fadiga. Unidades pocket modernas usam não tecidos de polipropileno para os “sacos”, colagem hot-melt e, quando o posicionamento pede, zonas de rigidez diferenciadas por variação de diâmetro ou altura dos corpos.
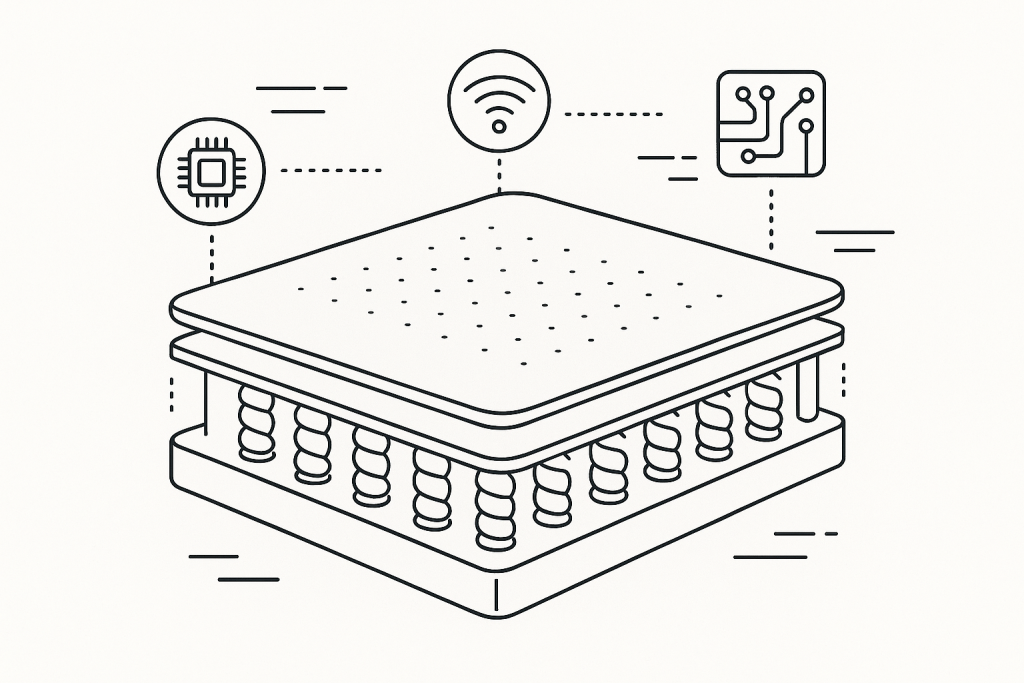
Camadas de conforto fazem a ponte entre núcleo e corpo do usuário. Espumas viscoelásticas têm taxa de relaxação lenta e boa distribuição de pressão, mas dissipam menos calor. Látex natural e sintético oferecem alta resiliência e conforto elástico. Fibras de poliéster, feltros agulhados e espumas de alta resiliência compõem “pilhas” que ajustam sensação e isolamento. Tecidos de malha com elastano permitem melhor conformação, enquanto jacquards estabilizam o tampo. Acabamentos com PCM (phase change materials), fios com grafeno ou infusões minerais apareceram como diferenciação térmica; funcionam, mas seu efeito depende da gramatura, da proximidade com a pele e da ventilação do miolo. Cola importa: adesivos aquosos e hot-melt de baixa emissão substituem solventes, sobretudo para atender limites de VOC em ambientes internos.
Do ponto de vista fabril, três operações concentram valor. A primeira é a produção e o corte de espuma. Após a reação, blocos precisam “curar” para estabilizar dimensões e completar reações residuais, normalmente por 24 a 72 horas, antes de ir para linhas de corte CNC que produzem lâminas, cones, ondulados e perfis de ventilação. A segunda é a fabricação do núcleo de molas: conformação do fio, montagem das colunas, ensacamento, colagem e união por solda ou adesivo. A terceira é a confecção, que inclui quilting do tampo, costura do perímetro e montagem final. Controle de processo mede densidade real do bloco, variação de ILD, altura livre do núcleo e peso específico de cada subcomponente. Uma fábrica eficiente rastreia lote de poliol/isocianato, bobina de aço, rolo de tecido e código de adesivo para assegurar reprodutibilidade e para responder a eventuais chamados de garantia.
Durabilidade não se mede com “aperto de mão”. Laboratórios usam roletes e pistões para simular anos de uso em poucos dias. O ensaio tipo rollator aplica milhares de ciclos para avaliar perda de altura e variação de firmeza; o teste de borda analisa integridade do frame e do arremate lateral; compressão permanente e recuperação elástica mostram o quanto o material “cansa”. Em colchões infantis, entram requisitos de dimensões e vãos para evitar aprisionamento. No Brasil, fabricantes atuam sob normas da ABNT e regulamentações do Inmetro aplicáveis, o que implica planos de amostragem, ensaios periódicos e rotulagem com informações de composição, dimensões e instruções de uso e conservação. Para marcas que exportam, há ainda o desafio de harmonizar requisitos locais com padrões como BS, EN ou CFR de mercados externos.
Para onde vai e como chega
Logística é um capítulo à parte. Colchão é volumoso, leve em relação ao cubagem e, portanto, caro de transportar por quilômetro útil. Por isso o setor investiu em modelos regionais de produção e em distribuição multimodal com hubs próximos às capitais. O avanço do “mattress-in-a-box” mudou o jogo para linhas de espuma e híbridos de baixa altura: ao comprimir e enrolar, o fabricante reduz o fator de cubagem e viabiliza CEPs remotos e marketplaces. A operação, porém, exige engenharia de retorno elástico e limites de compressão para não “quebrar” a célula de espuma ou deformar molas. O prazo de desenrolar e a temperatura de estocagem viram parâmetros de qualidade. A logística reversa também pesa. Taxas de devolução do e-commerce são maiores que as das lojas físicas e forçam processos de sanitização, recondicionamento ou descarte controlado, com custos que precisam entrar na precificação.
O varejo brasileiro combina redes franqueadas, multimarcas regionais, lojas de móveis planejados, marketplaces e marcas nativas digitais. O canal define boa parte do P&L. Em franquias e multimarcas, a demonstração em loja e o crediário ou parcelamento sem juros sustentam tíquete médio mais alto, mas a estrutura de comissionamento e de ocupação dilui margens. No digital, a batalha é de CAC, conteúdo, reputação e last mile. A página de produto tem de entregar ficha técnica precisa — densidade, altura, construção, camadas, garantia — e traduzir ergonomia para leigos sem promessas vazias. Testes de sono com período de experimentação ampliam conversão, mas trazem o passivo das devoluções. Em híbridos, a comunicação precisa explicar como molas e espuma trabalham juntas, evitando o “mais camadas é melhor” que só aumenta custo e dificulta controle de processo.
Como definir o preço
Precificação reflete materiais, complexidade de montagem, escala e canal. Aço e químicos indexam um pedaço relevante de COGS e sofrem com câmbio. Tecido, feltro e não tecidos seguem a dinâmica dos polímeros e do algodão. Custos de energia impactam espumação, quilting e compressão. Em mercados regionais com alta competição, promoções recorrentes criam referência âncora no consumidor; a consequência é um calendário comercial que obriga planejamento de compra de aço e químicos meses antes de datas como Dia do Consumidor, Dia das Mães e Black Friday. Garantia é outra peça do preço. Taxas de acionamento por afundamento, deformação lateral e presença de “vales” medem tanto projeto quanto disciplina de uso. Um manual claro sobre base adequada, rotação e proteção contra líquidos reduz sinistro e melhora NPS.
No desenvolvimento de produto, ergonomia saiu do discurso para o CAD. Equipes usam mapas de pressão, varreduras 3D de postura e bancos de dados antropométricos da população brasileira para calibrar zonas de conforto. O objetivo é distribuir pressão nas áreas de maior carga, controlar a rotação espontânea e manter alinhamento da coluna. Isso vira pilhas de camadas com ILDs escalonados, cortes de ventilação para reduzir retenção de calor e reforços de perímetro para facilitar o sentar e levantar. Para linhas infantis, permeabilidade do núcleo e resistência à umidade têm prioridade. Em hospitalar e hotelaria, o foco é resistência a limpeza frequente, gestão de umidade e retardância a chama conforme o escopo do cliente.
A pauta ambiental cresceu. Resíduos de espuma viram aglomerado para bases e tatames; sobras de tecido e feltro encontram destino em enchimentos; aço de molas é totalmente reciclável. Emissions de VOC são acompanhadas por auditorias e por especificações de matéria-prima de baixo odor. Programas de take-back no varejo ainda são incipientes, mas aparecem em capitais onde a logística de coleta é mais viável. Embalagens caminham para reduzir filme plástico e incluir percentuais reciclados, sem comprometer a barreira a umidade. O desafio maior é o fim de vida do produto composto: separar camadas com adesivo exige processo pensado desde o design, o que abre espaço para soluções mecânicas de fixação em linhas específicas.
Gerindo o business
Do lado de gestão, a fábrica moderna opera com indicadores parecidos aos de outros bens duráveis: OEE nas linhas de quilting e corte, rendimento de bloco na espumação, refugo por delaminação, ppm de defeitos visuais, lead time ordem-a-entrega, acurácia de inventário e NPS por SKU. No comercial, CAC, LTV, taxa de devolução por motivo, conversão por página, SLA de entrega e margem por canal orientam decisões de portfólio. Times de produto precisam de engenharia de valor contínua: trocar um feltro por não tecido termoligado, ajustar gramatura do tampo, otimizar a malha de molas, redesenhar o mix para reduzir SKUs quase redundantes. Em momentos de pressão de custo, a tentação de reduzir densidade ou cortar altura é real; a disciplina está em mexer na arquitetura preservando desempenho mensurável, não só “sensação” em loja.
Nos últimos anos, algumas frentes mudaram o cenário. O avanço do mattress-in-a-box levou compressão para o mainstream e habilitou DNVBs que nasceram digitais. Marcas internacionais de performance entraram com proposta enxuta de portfólio e promessa de conforto universal. Redes tradicionais reagiram com linhas próprias comprimidas e com reforço de consultoria em loja. A digitalização cruzou a fábrica: PLM para gerir receitas de espuma e pilhas de camadas, simulação de molas, sistemas MES integrados ao ERP e rastreabilidade por QR code até o consumidor final. Marketplaces viraram vitrine e “motor de busca” de colchões, o que deslocou verbas para mídia de performance, ao mesmo tempo em que a reputação pós-venda ficou totalmente transparente.
O que vem adiante deve combinar três vetores. O primeiro é técnico: desenhos híbridos mais baixos capazes de compressão estável, espumas com aditivos de gestão térmica menos dependentes de marketing e mais ancorados em ganho real de condutividade e difusividade, e processos de colagem com menor emissão e melhor desmontabilidade. O segundo é de canal: integração honesta entre loja física e digital, com estoque unificado, teste de sono agendado e entrega sob demanda. O terceiro é regulatório e ambiental: ampliar padronização de ensaios e rotulagem para facilitar comparação e empurrar o setor para práticas de circularidade desde o design.
Engenharia, logística e narrativa
Em síntese, fazer e vender colchão no Brasil é tarefa de engenharia, logística e narrativa. Engenharia para que o produto suporte milhões de ciclos sem colapsar e entregue conforto consistente. Muita base logística para que um volume grande chegue rápido e inteiro onde o cliente está. E a tal narrativa para traduzir técnica em escolhas claras, sem jargão nem truques. As empresas que equilibrarem esses três pontos tendem a construir marcas duráveis num mercado que, apesar de maduro, ainda tem espaço para ganhar eficiência e elevar a régua de desempenho.